Por que brigamos?
- Luis Alcubierre

- 15 de jun. de 2025
- 3 min de leitura
Enquanto ainda tentamos entender o tamanho da ferida aberta entre Rússia e Ucrânia, agora assistimos à escalada entre Israel e Irã. Como se os conflitos tivessem fila, como se a humanidade tivesse uma agenda marcada para o próximo desastre. O Sudão arde em silêncio; o Iêmen agoniza; o Congo sangra e a Síria segue num conflito que já virou paisagem. Armênia e Azerbaijão somam outro capítulo, sem contar as tensões políticas e étnicas que se espalham por diversas regiões da África, da Ásia e até mesmo de nossa América Latina. Há brigas por terra, por poder, por vingança, por medo, por mágoa acumulada.
A pergunta que insiste em voltar é sempre a mesma: por que continuamos brigando?
Desde sempre, o ser humano caminha com dois impulsos debaixo da pele: o desejo de se conectar e o medo de ser destruído. A agressividade não é um erro de fabricação, é uma ferramenta que nos trouxe até aqui. Foi o que nos manteve vivos quando tudo ao redor parecia ameaça. A guerra, seja entre países ou dentro de uma sala de jantar, é o transbordamento daquilo que não conseguimos elaborar. É a projeção da nossa sombra, daquilo que não queremos ver em nós, mas fazemos questão de enxergar no outro. O cérebro, ainda programado para a sobrevivência da caverna, reage. Fuga, luta ou congelamento. Sempre igual. É mais fácil reagir do que refletir; mais simples atacar do que organizar a dor; mais rápido odiar do que entender o que nos machuca. A mágoa, quando não digerida, vira ressentimento. O ressentimento fermenta e vira ódio; o ódio se instala e vira destruição.
O processo de viver em sociedade é, no fundo, um exercício diário de contenção. A civilização é isso: um pacto silencioso de que vamos tentar segurar o nosso próprio impulso de explodir. Não por fraqueza. mas por escolha. por inteligência emocional, por desejo de construção.A violência, em qualquer escala, nasce quase sempre de uma dor mal resolvida, um medo de perder, um orgulho ferido, uma frustração que ficou entalada ou até uma carência de reconhecimento. O estopim pode ser pequeno, mas a carga emocional acumulada é enorme. E, sim, há alternativas, mas nenhuma delas é simples. Elaborar, nomear os sentimentos, criar espaço para o diálogo real - aquele onde escutamos de verdade e não só preparamos a próxima resposta enquanto o outro fala. Aprender a reconhecer o que é nosso e o que é do outro. E, principalmente, abrir mão de estar certo o tempo todo.
Nas relações pessoais, a mesma lógica: pequenas guerras diárias entre casais, amigos, famílias, colegas de trabalho. O problema raramente é o que parece ser. Não é a louça na pia; não é o e-mail atravessado; não é o tom de voz. É a história mal contada por trás de tudo isso.
O que se perde nesses embates nem sempre aparece na hora. Mas um dia a conta chega. A confiança some; o afeto esfria; vínculos se rompem. E quando a gente percebe, já está cada um no seu canto, com a razão intacta e a relação em pedaços.
Interromper esse ciclo exige coragem. A coragem de desarmar o próprio ego. De respirar fundo antes de reagir. De admitir a própria dor. De reconhecer a dor do outro. Não é ceder por fraqueza; é escolher a construção, mesmo com o orgulho gritando para fazer o contrário. Toda guerra tem quem ache que ganhou. Mas, no longo prazo, sempre há mais perdas do que vitórias. O ódio é uma ilusão de força. Uma anestesia momentânea. Depois que passa, só sobra o vazio.
Talvez a maior prova de força que a gente possa dar hoje seja essa: interromper o ciclo. Escolher, mesmo com dor, o caminho da construção.









































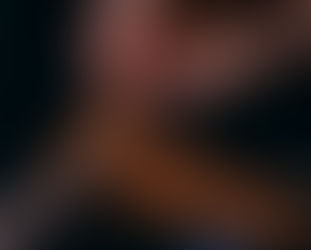




















Comentários