O tempo ao alcance das mãos (PARTE 2)
- Luis Alcubierre

- 22 de nov. de 2025
- 5 min de leitura
A Revolução Francesa ainda pulsava quando decidi ficar mais uma noite em Paris. Era julho de 1789 e o ar tinha cheiro de expectativa. E de medo. Decidi ficar mais dois dias depois da queda da Bastilha. A cidade parecia caminhar sobre cacos. Ruas tomadas por rumores, cafés lotados de gente comentando o que poderia vir. O extraordinário acontecia no detalhe. Homens discutiam direitos como quem discute pão, mulheres defendiam a própria voz, jovens anotavam tudo em folhas que talvez jamais sobrevivessem. Ali, o mundo reaprendia a conversar. E a desconfiar.
Quando entrei novamente na minha improvável máquina do tempo, ajustei o visor para um destino tão simbólico quanto inevitável: 1820. Um dos marcos da Revolução Industrial. As fábricas se multiplicavam como manchas de fuligem. Máquinas e a siderurgia operavam em grande escala e as zonas urbanas cresciam a passos largos, dando ritmo ao que viria a ser a primeira grande transformação econômica global. Eu via homens e mulheres lidando com engrenagens que exigiam força e esperança na mesma medida. Era o começo da noção moderna de trabalho e da necessidade crescente de mediar relações, alinhar expectativas, comunicar mudanças. O mundo corporativo nascia de vapor e músculo.
E foi exatamente depois disso que decidi avançar para o início do século XX, onde um encontro mudaria para sempre o modo como empresas se relacionariam com a sociedade. Ajustei o painel e materializei-me numa sala simples, mas vibrante de propósito. John D. Rockefeller conversava com Ivy Lee, o homem que lhe apresentou a ideia revolucionária de comunicar fatos com transparência, assumir responsabilidades e dialogar com o público antes que rumores fizessem isso por ele. A cena era quase silenciosa, e justamente por isso impressionava. Ali estava a semente da comunicação corporativa moderna. Tudo o que viria depois, como as relações públicas, a reputação e a credibilidade brotava dessa conversa franca, pragmática e surpreendentemente humana. Naquele instante, percebi que a história da influência não se escreve só no poder, mas na narrativa.
Ainda absorvendo esse momento fundador, decidi saltar novamente. Desta vez por cima da Primeira Guerra Mundial e aterrissei diretamente no Brasil de 1922. Nunca vi São Paulo tão vibrante. A Semana de Arte Moderna parecia um terremoto criativo sacudindo o "Theatro Municipal". Mário, Oswald, Tarsila… cada um parecia inaugurar uma forma nova de ver o Brasil. Era como assistir o país reaprender a falar, mais ousado, mais aberto, mais nosso. A cidade inteira parecia ensaiar um salto cultural.
E, como se não bastasse, aquele ano também foi prodigioso para a Medicina. A insulina foi isolada e aplicada pela primeira vez em humanos. Além desse marco histórico, assistimos à consolidação de técnicas cirúrgicas modernas, novos tratamentos que mudariam a curva da vida humana. Dois avanços paralelos, a arte e a ciência disputando espaço na mesma história. Que ano foi 1922!
Fugi da Grande Depressão. Triste demais para quem via o mundo tentando se reconstruir e parei em junho de 1940, na Inglaterra. Entrei discretamente em um pub onde homens e mulheres, em torno de um rádio, ouviam a voz grave de Winston Churchill ecoar: “We shall fight on the beaches”. Era impossível não sentir a espinha endurecer. Não era só um discurso, era arquitetura emocional. Uma narrativa construída para evitar que um povo se partisse pelo medo. A comunicação ali era escudo e espada.
Segui adiante para os Estados Unidos já envolvidos na guerra. Escolhi uma pequena cidade do interior, onde jovens recrutas aprendiam a marchar antes mesmo de lidar com a ideia de perder amigos. Nas noites mais leves, todos lotavam clubes iluminados por lâmpadas amarelas. Glenn Miller fazia as pessoas esquecerem a urgência do mundo. E ele não estava sozinho: Tommy Dorsey, Benny Goodman e tantas outras orquestras faziam o impossível, transformando ansiedade em dança. Era como se a música dissesse, baixinho, que a esperança encontrava caminhos mesmo quando tudo apontava o contrário.
Depois, Londres novamente. O dia? 6 de junho de 1944. A notícia da invasão na Normandia corria de boca em boca, e a cidade se enchia de uma coragem silenciosa. Cada pessoa parecia carregar uma parte do destino do mundo nos ombros. Dali, avancei até Nova York, no dia em que anunciaram oficialmente o fim da Guerra. A Times Square era uma mistura de lágrimas e sorrisos. Gente se abraçava sem se conhecer. A paz tem esse efeito: humaniza até o asfalto.
Antes de seguir, fiz uma parada curta na São Paulo dos anos 40. A cidade tinha vocação para ser europeia. Linhas elegantes, pessoas educadas, apesar da pouca instrução, ritmo próprio, ambição cosmopolita. Em algum momento se desviou, como quem se distrai numa avenida movimentada. Mas ali estava a promessa. Um lampejo do que poderia ter sido. Que pena termos escolhido outro caminho.
Depois cruzei para os Estados Unidos do pós-guerra: diners surgindo pelas estradas, hambúrgueres virando símbolos, hot dogs migrando das esquinas para o imaginário popular, e o rock and roll engatinhando antes de incendiar corações adolescentes. Parei um instante em Hill Valley, 1955. Marty McFly e Doc Brown não estavam por perto, mas as luzes, os carros, os casacos de couro… tudo parecia pronto para receber um viajante distraído.
O tempo me empurrava. Atravessei os anos 50 e 60 na velocidade de um cometa: o início da contracultura, Monterey, Woodstock, o verão do amor, a eletricidade nova da Tropicália no Brasil, a bossa de João e Tom brilhando no Rio (e no exterior), o Ye Ye Ye embalando a juventude, o cool jazz flutuando por Manhattan como se o ar tivesse outro peso e as melhores bandas da história do rock nascendo, brigando, se dissolvendo, se multiplicando nos Estados Unidos e no Reino Unido. Vi os Beatles e os Stones levando jovens à histeria; Hendrix incendiando guitarras; Caetano, Gil e os Mutantes incendiando ideias, Motown incendiando a alma com Marvin Gaye, Diana Ross e Stevie Wonder.
Decidi fazer algo arriscado. Visitei meus pais quando ainda era criança, observando de longe. A teoria de Zemeckis e Gale ecoava como aviso. "Nada de encontros. Só um gesto de carinho silencioso". Era um reconhecimento do que moldou tudo o que sou. Depois fechei a porta para não alterar uma vírgula da história.
De lá, fui para Londres ver o punk nascer. Uma geração inteira gritando contra tudo, enquanto a música britânica se preparava para mais dois saltos incríveis: o renascimento do pop no fim dos 70 e o furacão criativo dos anos 80. Bares apertados, bandas improvisadas, jovens acreditando que três acordes bastavam para mudar o mundo. Não podia deixar de arrumar um jeito de ir à Berlim do dia 09 de novembro de 1989, quando o Muro finalmente veio abaixo. Que festa, amigos!
Quando finalmente parei, percebi que estava exausto, mas pleno. A viagem tinha se transformado numa jornada sobre como as épocas se reinventam, como as pessoas encontram novos caminhos e como a comunicação, em todas as suas formas, sustenta pontes entre mundos.
Programei o retorno. O painel brilhou. A máquina tremeu. E, quando achei que estava voltando para casa, ouvi um ruído inesperado. O visor piscou. Uma frase apareceu, sozinha: “Próxima parada: o futuro que você ainda vai ajudar a construir.”
Talvez o tempo saiba exatamente quando confiar em quem observa o mundo com cuidado. Mas essa história não pode ser contada. Precisa ser vivida.

Imagem gerada por Nano Banana








































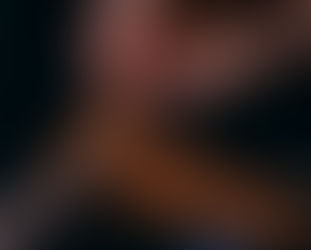




















Comentários