O tempo ao alcance das mãos (PARTE 1)
- Luis Alcubierre

- 21 de nov. de 2025
- 4 min de leitura
Desde pequeno a imaginação me leva longe daqui. Não se trata só de um lugar, mas de quando. A chance de atravessar o tempo como quem atravessa uma porta sempre mexeu comigo. Não era fuga, era fascínio puro. Pode ser que essa vontade tenha nascido nas séries como O Túnel do Tempo e A Ilha da Fantasia. Não perdia um capítulo. Elas me faziam acreditar que a qualquer momento poderia tropeçar em um portal escondido no quintal. Mas foi quando De Volta para o Futuro chegou, há exatos quarenta anos, que a fantasia ganhou motor e velocidade. A verdade é que eu não precisaria nem de um DeLorean para isso. Se os produtores Zemeckis e Gale tivessem levado adiante a ideia bem-humorada de colocar a máquina do tempo em uma geladeira, eu teria aceitado sem hesitar. Entraria ali, fecharia a porta e pronto. Atravessaria milênios tranquilamente ao som de um compressor cansado.
Imaginar esse roteiro sempre me diverte. Por isso embarco nele de vez em quando. Como o feriadão exige uma leitura mais leve, pensei em compartilhar essas aventuras que não saem da minha cabeça. São tantos ao longo de tantas centenas de anos que decidi dividir esta história em duas. E de forma cronológica. A primeira ideia de viagem que tive foi um tanto absurda, porque ver os dinossauros pode até ser emocionante, mas virar jantar logo na chegada poderia comprometer o meu eu do futuro. Em vez disso, minha primeira parada escolhida foi 3.200 a.C., na velha Mesopotâmia, só para assistir aos sumérios moldando aquelas tabuletas de argila. Ver o primeiro registro escrito da história humana deve ser como assistir alguém acendendo a luz pela primeira vez. Eu ficaria ali observando a calma do gesto, o desenho das palavras nascendo, o mundo finalmente conseguindo se lembrar de si mesmo. A escrita é o começo de tudo, a razão e o prazer da minha vida até hoje.
Em seguida, daria um salto para o Egito de Quéops, por volta de 2560 a.C. Há dúvidas que me acompanham desde criança, e nenhuma me provoca tanto quanto a origem da Pirâmide de Gizé. Eu me aproximaria devagar, tentando entender como uma obra dessas se levanta sem guindastes, sem aço, sem engenharia moderna. Humanos? Visitantes? Um pouco de teimosia e muito de genialidade? A resposta está lá, mas nunca nos diz.
Depois seguiria para a China de 500 a.C. Uma vez lá, acompanharia Confúcio caminhando e conversando. Sempre imaginei aquele homem como alguém que transformava cada frase em bússola moral. Ele falava e o mundo ao redor parecia ganhar consistência. Ficaria ouvindo, quase disfarçado, percebendo que o sentido das coisas depende mais do espírito do diálogo do que da complexidade das regras.
Dali, pegaria carona rumo à Grécia de Aristóteles, lá por volta de 328 a.C. Na Atenas deste gênio eu procuraria um lugar entre os estudantes e o veria explicar a retórica como uma espécie de manual de entendimento mútuo. Não era um professor: era um homem que enxergava a alma das conversas. Saber que ele moldou a forma como discutimos, decidimos e convencemos até hoje me faz querer apertar sua mão e dizer obrigado. Certas admirações dispensam qualquer lógica.
E então chegaria a Cafarnaum, no ano 30 d.C., para ouvir Jesus falando a pequenos grupos à beira do rio. Nada de multidões épicas. Só gente comum, pescadores, mães, idosos, crianças. Tenho certeza de que essa curiosidade, que já era grande, se reforçou quando ganhei o livro de JJ Benítez, Operação Cavalo de Tróia. Li essa edição umas três vezes na minha adolescência. Sempre imaginei esse ambiente como algo simples e potente, onde cada frase parecia tocar um ponto de humanidade que todos reconheciam sem esforço. Seria impossível não se emocionar.
Logo depois, seguiria para Roma em 150 d.C. O império vivia uma calmaria rara, graças a Antonino Pio. Gosto desse imperador que quase não aparece nos livros. Parece que sua maior virtude foi justamente não buscar aplauso. Governava com discrição, firmeza e senso de justiça. Caminhar por Roma naquela época significava encontrar uma cidade confiante, organizada, respirando estabilidade, fase hoje reconhecida como o auge da Pax Romana.
De lá, voaria longe, para a Constantinopla de 550 d.C., no auge de Justiniano. Aquela cidade devia ser um mundo inteiro comprimido em ruas estreitas: persas, árabes, armênios, gregos, latinos, cada um trazendo histórias, mercadorias, estratégias. Ali, conversas valiam ouro. Era um lugar onde as culturas negociavam futuro. Caminhar por aquelas vias seria como atravessar um livro vivo.
Depois chegaria ao califado de Córdoba, em 950 d.C. Imagino a luz dourada batendo nos pátios, o som de conversas cruzadas entre estudiosos, médicos, matemáticos e poetas. Era uma cidade que tratava o conhecimento com o mesmo cuidado com que se trata um tesouro. Nada ali era irrelevante: nem a arquitetura, nem as ideias e muito menos a gastronomia. Se hoje falamos azeite, açúcar, açafrão, arroz, alface, alcaparra, amêndoa, âmbar, jasmim; se usamos canela, cravo, noz-moscada, cúrcuma, pimenta do reino, mel e água de laranjeira, é porque devemos muito a essa civilização espetacular. E parte importante da cultura espanhola contemporânea nasce ali. Um legado que, no meu caso, também carrego de forma afetiva no nome e na vida.
A etapa seguinte me levaria ao Renascimento florentino, para esbarrar com Da Vinci e Michelangelo andando pela rua como se fossem dois vizinhos talentosos. O ambiente devia ter cheiro de tinta fresca, papel, couro e mármore. A criatividade circulava ali como vento. Eu daria um jeito de seguir alguns passos atrás, ouvindo fragmentos de conversas, tentando sentir o que é viver em uma cidade onde cada esquina parece anunciar um novo mundo.
E, quando achasse que o coração já tinha guardado lembranças suficientes, fecharia essa primeira jornada no Iluminismo francês. Estaria entre Voltaire, Montesquieu e tantos outros que imaginavam sociedades baseadas na razão, na liberdade e na crítica responsável. A sensação seria a de observar faíscas que, pouco a pouco, acenderiam a consciência moderna.
No fim, voltaria para casa com a certeza de que viajar no tempo não é só ir ao passado. É se aproximar do que nos fez ser quem somos.
Talvez ainda esteja faltando minha máquina, seja um carro brilhante ou uma geladeira amassada, mas enquanto ela não chega, sigo abrindo janelas pela imaginação. Viajar assim também é um jeito de não deixar o tempo nos escapar.
E, se tudo correr bem, a próxima viagem começa amanhã mesmo, exatamente de onde parei: na própria Revolução Francesa, quando o mundo decidiu mudar de século, de ideias e de destino ao mesmo tempo. Nos vemos lá.

Imagem gerada por Nano Banana








































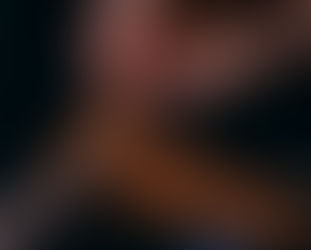




















Comentários