Cultura da barbárie
- Luis Alcubierre

- 21 de ago. de 2025
- 3 min de leitura
O jogo interrompido entre Independiente e Universidad de Chile, na última quarta-feira, é só o espelho mais visível do que preferimos não encarar: a barbárie cotidiana que normalizamos. Não é sobre futebol. É sobre o colapso de regras compartilhadas, a substituição da confiança por esperteza, o triunfo do atalho sobre o pacto. Em campo, a malandragem vira estratégia. Fora dele, a carteirada, a agressão, o empurra-empurra institucional fazem o resto. Quando a regra deixa de organizar o jogo, a força física, econômica ou hierárquica, assume o apito.
A raiz disso não é moral genética, é desenho institucional e herança histórica. Em sociedades forjadas por colonização extrativa, escravidão e patrimonialismo, a linha entre o público e o privado nasceu borrada. Sérgio Buarque de Holanda apontou o “homem cordial” como a prevalência dos vínculos pessoais sobre a impessoalidade da lei. em vez de “a regra vale para todos”, valem os favores, as relações, as senhas do clã. Daron Acemoglu, economista do MIT, e James Robinson, cientista político da Universidade de Chicago, mostraram que, onde prevalecem instituições extrativas, o jogo incentiva a captura e não a cooperação. Premiam-se os atalhos, não a produtividade. O “jeitinho” é, no início, tática de sobrevivência diante de um Estado ineficiente. Com o tempo, vira vício que corrói confiança, aumenta custo de transação, alimenta corrupção e mantém a roda girando no mesmo lugar.
A escola fraca completa o círculo vicioso. Baixa alfabetização plena, desigualdade brutal na qualidade do ensino e ausência de uma política séria de bilinguismo nos condenam a um mercado de trabalho de baixa complexidade e à distância das fronteiras científicas e tecnológicas. Sem repertório crítico e sem segundo idioma, a sociedade fica presa ao presente curto, pouco exposta a referências de civilidade que exigem disciplina coletiva. O resultado é previsível: intolerância no debate público, incapacidade de negociação, cultura de “ganha-perde”, ressentimento social e a crença de que obediência à regra é coisa “de otário”.
A violência se torna linguagem quando o Estado falha em três frentes: presença, justiça e exemplo. Presença que previne (urbanismo, políticas sociais, policiamento orientado a dados), justiça que entrega consequência rápida e certa (não seletiva, não negociável) e liderança que não barganha com a regra. No futebol, laboratório da nossa vida cívica, a conta se vê nas “organizadas” instrumentalizadas, na impunidade a dirigentes e federações, na segurança terceirizada ao improviso. Quando a transgressão compensa e a punição é rara ou simbólica, a barbárie não é acidente, é cálculo racional.
A saída exige um pacto simples e difícil. Regra clara, exemplo visível, consequência automática. Prioridade absoluta à primeira infância e à alfabetização (com metas públicas e financiamento atrelado a desempenho), bilinguismo e cultura desde cedo como política de Estado, carreira docente valorizada por mérito e formação contínua. Integridade com dentes: compras públicas 100% digitais, auditoria em tempo real, proteção e prêmio a denunciantes, cadeia efetiva de responsabilização para agentes públicos e privados. Justiça e segurança baseadas em dados, investigação e celeridade processual, não em espetáculo. No futebol, cadastro único de torcedores, banimento efetivo de violentos, corresponsabilização financeira de clubes e federações por incidentes, calendário e transmissões usados para educar, não inflamar. Civilidade não é adorno moral, é infraestrutura de desenvolvimento. Quando o jogo passa a premiar quem joga pelo time e a punir, sem exceção, quem rompe o pacto , a barbárie deixa de ser destino e volta a ser aquilo que sempre foi: uma escolha.









































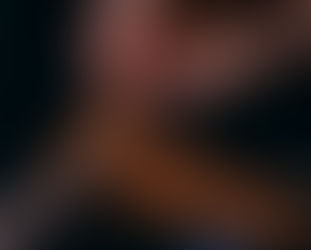




















Comentários